A linguagem é a capacidade e o produto que melhor mostra o ser humano, tanto em sua essência atemporal quanto em seu existir histórico. É o meio essencial para o ensino e uma finalidade radical para a formação humana. No ensino formal todo docente precisa ser um mestre no uso da linguagem.
A linguagem educativa se desdobra em muitas funções linguísticas. E a primeira não é a denotativa, mas a conotativa. Acreditar que a mera declaração do saber, a mera explicação de um conteúdo é suficiente para a formação humana, é estar eivado desse racionalismo moderno que costuma ignorar – entre outras coisas – o valor da afetividade como motor da ação pessoal e portanto como instrumento de formação.
A compreensão intelectual da verdade não é causa próxima nem direta da ação humana: não é porque o homem sabe o que ou como são as coisas que surge nele espontaneamente a disposição de agir. É preciso mais: é preciso que o ensino estimule o aluno de tal forma que ele se veja afetado em sua vida pessoal. É preciso que ele possa, no sentido mais real do termo, “apreender”. Para conseguir isso a linguagem não pode ficar na função enunciativa. Isso não seria educar, mas – no máximo – instruir.
O mestre é o intermediário entre a realidade e o discípulo. Seu discurso não pode ser apenas lógico, mas também retórico e poético, já que o silogismo lógico não leva à ação, e, portanto, é insuficiente e ineficaz para a formação humana. Um discurso enunciativo ou “científico” pede o assentimento lógico do ouvinte à verdade teórica declarada, e nada mais. Um discurso poético e retórico busca a persuasão, ou seja, o assentimento intelectual, mas também e sobretudo a adesão da vontade à verdade prática que está sugerindo. E isso se realiza de um duplo modo: excitando a afetividade mediante a dimensão da beleza do discurso poético por uma parte, e também mostrando a verdade, não apenas enquanto tal, mas também como verossímil, isto é, como semelhante e próxima a outras verdades conhecida e vividas pelo aprendiz.
Naturalmente, falar da dimensão poética do discurso docente não significa expressamente que as lições devam estar em verso (ainda que esse também seja um bom e antigo recurso). Aqui, por dimensão poética entendemos a elaboração de um discurso que, sem perdem nunca a primordial referência à verdade teórica que expõe, atenda também à própria beleza da verdade, na medida em que verdade e beleza não transcendentais do ser. Trata-se simplesmente de mostrar o “splendor veritatis”, o resplendor do ser na verdade.
A persuasão retórica se fundamenta na experiência de ação do ouvinte, apresentando a verdade de modos que se possam estabelecer relações lógicas fáceis e acessíveis com outras verdades conhecidas. Dessa forma a verdade é realmente aprendida: não é vista apenas como possível, mas como exequível e realizável. Assim ocorre, por exemplo, com o recurso retórico da metáfora, forma poética da analogia lógica: ao apresentar algo desconhecido tal como é, se expõe uma nova verdade lógica, mas ao relatá-lo como se fosse outra coisa já conhecida e vivida por quem aprende, se sugere também uma verdade prática que pode incidir diretamente na tendência humana, apelando para a vontade, e co-movendo a afetividade. Isso também acontece de modo parecido com os demais recursos retóricos.
A última razão de ser das dimensões poéticas e retóricas do ensino está na conveniência de relacionar a instrução com a experiência. A necessidade de aprender a partir do já conhecido é uma afirmação intemporal, fruto do senso comum mais elementar. Isso justifica o uso dos exemplos no ensino como apoio decisivo para a aprendizagem. Um exemplo é um caso isolado, mas que por sua particularidade de ser “exemplar” apresenta a realização de um enunciado universal em um fato singular. Desse modo se abre a via indutiva do conhecimento, mais apta e eficaz para aprender que a via dedutiva, ainda que não incompatível com ela. Conjugando habilmente as metáforas com os exemplos, a aprendizagem fica facilitada. Inclusive na própria pesquisa científica, onde o exemplo, sob o nome de “modelo” é um frequente recurso para potencializar o conhecimento.
Anotações de uma aula de nosso curso de Filosofia da Educação, calcada na obra de Francisco Altarejos e Concepción Naval.
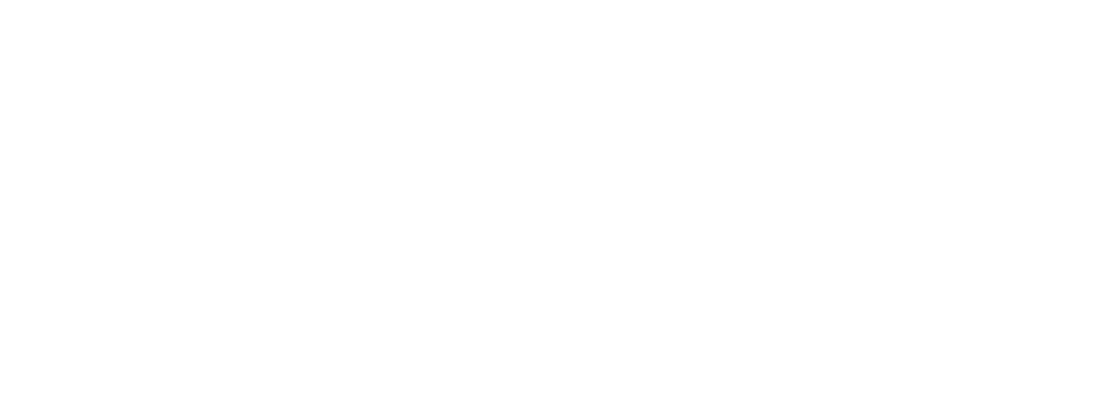
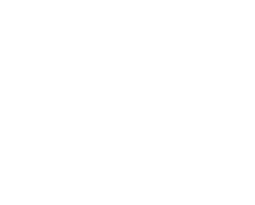

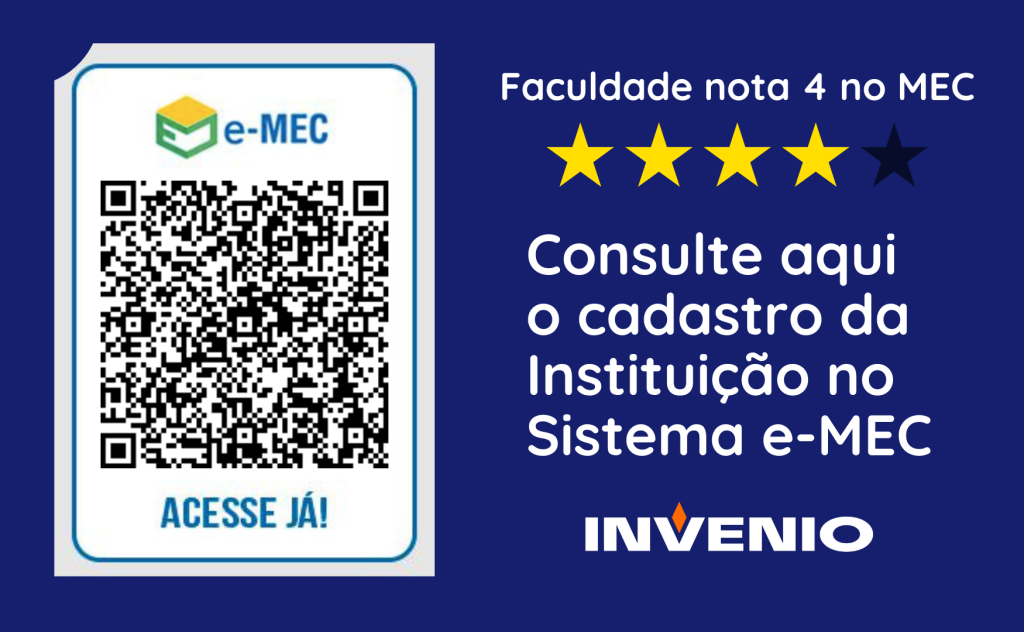
Esta percepção da dimensão poética e retórica do ensino contempla, justamente, aquilo que está posto pelo conjunto de disciplinas conhecido como Trivium (Poética, Retórica e Lógica) e que, na Idade Média, constituía o programa educacional, inspirado nos clássicos grego e romano, mas aprimorado pela filosofia clássica católica.
A importância em se compreender a ordem destas classes disciplinares se faz, mesmo, fundamental para o esclarecimento aprofundado do conhecimento, na educação.
Quando o autor do texto relata que “a última razão de ser das dimensões poéticas e retóricas do ensino está na conveniência de relacionar a instrução com a experiência”, remete a que, também, o motus da disciplina lógica na educação clássica se encontra intrinsecamente relacionado e interdependente à Poética e à Retórica. Desse modo, os enunciados universais criados pela lógica só é capaz de se manter firme se, no seu fundamento, forem encontrados os princípios articulados da Poética e da Retórica.