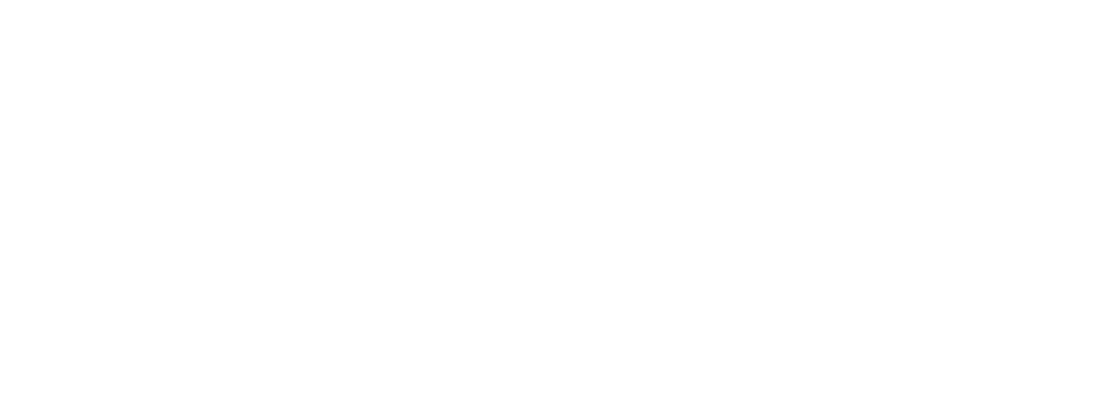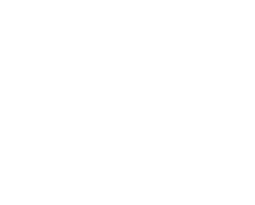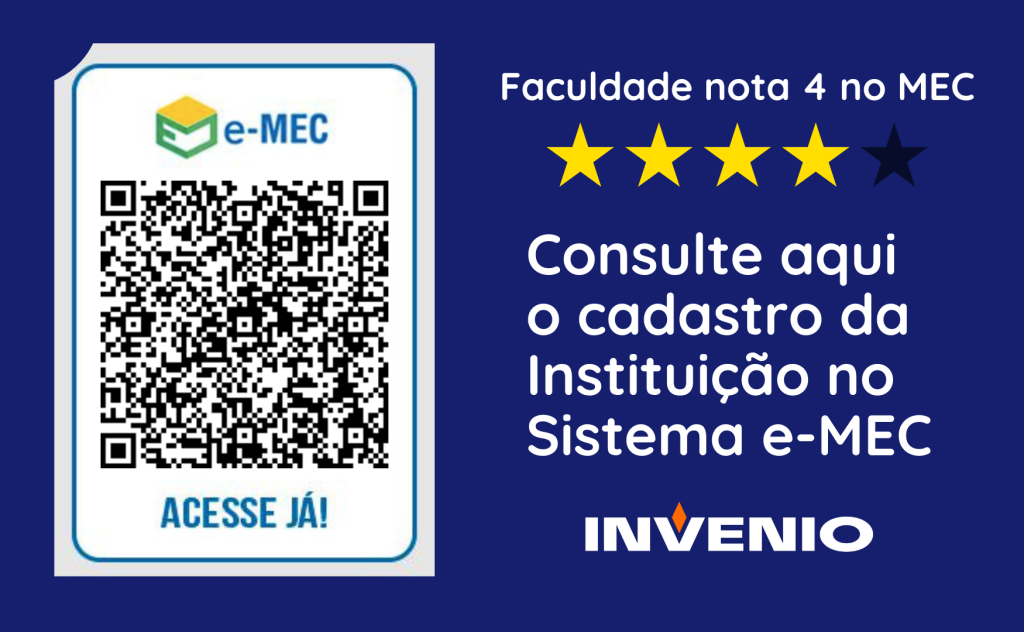Extensão Universitária é a prática que faz a ponte entre a produção do saber acadêmico e o mundo não acadêmico onde a universidade se insere.
Uma das características da Universidade é ser luz, é irradiar o saber descoberto e elaborado na pesquisa para toda a sociedade, sob forma de benefícios realmente efetivos. Para eficaz cumprimento dessa finalidade, as atividades universitárias se subdividem em três: a Pesquisa, o Ensino e a Extensão. São todas funções essenciais, e o correto seria que elas nunca estivessem em conflito, mas sempre vinculadas, uma servindo a outra. Quando cada uma dessas funções estiver funcionando segundo sua própria índole, então o sentido da Universidade está realizado.
Entretanto, se formos classificar as funções da Universidade não tanto por sua importância relativa, mas por sua prioridade lógica, teremos que convir que a primeira em precedência deve ser a pesquisa. O filósofo e teórico da educação Leonardo Polo afirma que “é da pesquisa que dependem, em último termo, todas as demais funções da universidade. Se falta a pesquisa, a universidade se esclerosa, a transmissão do saber perde os horizontes e a atualidade, e facilmente se cai na repetição retórica ou dogmática de dados não assimilados. Se não há pesquisa, a extensão também perde grande parte do seu sentido, porque a sociedade não mais percebe sua necessidade. Sem pesquisa, os centros universitários se desagregam por falta de projetos unificadores, a posição do catedrático se desvirtua pela ausência de metas ulteriores para sua vida acadêmica”
Evidentemente a Pesquisa também necessita das outras duas funções. Necessita da docência porque não se pode pesquisar a partir do zero, e porque os resultados por alcançar devem se enlaçar ao saber historicamente acumulado: a descontinuidade no progresso científico traria consigo perda de qualidade intelectual. Uma pesquisa desconectada está eivada de um forte caráter conjuntural, e esse perigo é ainda maior pela crescente exigência da especialização. A pesquisa necessita também da extensão, para evitar esoterismos e servir ao bem comum. Em suma: a pesquisa não é autônoma, mas uma nova dimensão da integral hegemonia da educação superior.
Isso de hierarquizar funções que se interpenetram pode ser um bizantinismo ou uma tautologia Infantil (“em um tripé, qual o pé mais importante?”). As três funções da Universidade são tão interdependentes que o correto seria que nunca estivessem em conflito, mas sempre vinculadas, uma servindo a outra, e assim fossem vistas e avaliadas pelo mundo acadêmico.
Essas considerações, embora óbvias, estão se fazendo atualmente necessárias quando lemos nas revistas acadêmicas e mesmo nos meios de divulgação uma série de artigos e intervenções, com maior ou menor grau de fundamentação, discorrendo sobre o novo papel da Extensão, e sobre as implicações práticas da Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Os debates suscitados pelas formas de aplicar essa Resolução deram uma nova candência ao tema.
Como bem analisa Moacir Gadotti, no fazer universitário atual têm se confrontado duas vivências de Extensão: “uma mais assistencialista, e outra não assistencialista(…). A primeira entende a Extensão Universitária como a transmissão vertical do conhecimento, um serviço assistencial, desconhecendo a cultura e o saber popular. Basicamente, essa concepção sustenta que “aqueles que têm estendem àqueles que não tem. Essa visão assistencialista traz, pois, uma direção unilateral, ou seja, é uma espécie de rua de mão única, que só vai da universidade para a sociedade. A mão inversa não é considerada. É interpretada como inexistente. Não se leva em conta o que vem da sociedade para a Universidade, seja em termos da sociedade sustentando o ensino superior, seja em termos do próprio saber que a universidade elabora. Entretanto, para que a universidade se insira efetivamente na sociedade de modo consequente, é necessário que se considere a mão inversa também. A segunda vertente entende a extensão como comunicação de saberes. É uma visão não assistencialista, não extensionista de Extensão Universitária (…) Ela se fundamenta numa teoria do conhecimento, respondendo à pergunta: como se aprende, como se produz conhecimento. Uma teoria do conhecimento fundamentada numa antropologia que considera todo ser humano como um ser inacabado, incompleto e inconcluso, que não sabe tudo, mas, também, que não ignora tudo”.
Mais adiante, Gadotti ressalta que “mão dupla” significa uma troca entre os saberes acadêmico e popular, que tem como por consequência não só a democratização do conhecimento acadêmico, mas, igualmente, uma produção científica, tecnológica e cultural enraizada na realidade. A extensão deve influenciar o ensino e a pesquisa e não ficar isolada deles, da universidade como um todo e dos anseios da sociedade, “entrelaçando” saberes. O projeto político-pedagógico institucional da Universidade precisa explicitar o que ela pensa sobre ensino, pesquisa, extensão, gestão e suas articulações.
Esse conceito de extensão não é exatamente novo: a LDB, de 1996, ao estabelecer que a extensão é uma das finalidades da educação superior, já postulava que tal Extensão deveria “ser aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológicas geradas na instituição”. E a Constituição de 1988 já garantia a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. A expressão “participação da população”, da Lei Darci Ribeiro já abria caminho, portanto, à “mão dupla”, ou à “troca de saberes” entre o acadêmico e o popular.
O que já parece mais novo nos debates é que essa “democratização da extensão” traria como consequência uma mudança no conceito de pesquisa. Muito tem se falado sobre a uma nova modalidade de pesquisa, oportunamente chamada de “pesquisa-ação”. Essa ação investigativa, sem dispensar as evidentes vantagens características da pesquisa científica cartesiana, difere desta quanto ao papel do pesquisador: na pesquisa acadêmica científica, o pesquisador deve se comportar como um “elemento ausente”, observando e registrando os fenômenos sem interferir neles em nada. Já na pesquisa-ação a intenção de interferir é clara e primordial: o pesquisador estabelece um diálogo com a comunidade, para que juntos, unindo os saberes acadêmico e autóctone, encontrem a melhor solução para uma determinada necessidade social, ou delineiem o melhor caminho para um crescimento harmônico e consciente. Nessa forma de trabalho científico, o pesquisador universitário é também um sujeito interveniente na sociedade, imerso no seu contexto. O sociólogo Boaventura Santos compara essa dinâmica a uma “ecologia dos saberes”, onde ocorre a simbiose entre a produção universitário e a tradição popular. A pesquisa-ação, além da levar a universidade ao meio social, também traz esse meio para dentro da universidade. Edgar Morin, com sua habitual precisão terminológica, sintetiza: “É fato que a universidade tem várias contribuições a fazer para a sociedade brasileira. Mas o inverso também é verdadeiro, pois a sociedade também tem contribuições a fazer à universidade. Para que a construção de uma universidade democrática possa acontecer, a complexidade do mundo deve ser reconhecida e não excluída da universidade. Trazer a complexidade para dentro dos seus muros, estimulando a diversidade, compreendê-la, são formas de avançar para um modelo mais inclusivo, mais democrático da universidade”.
Infelizmente não são todos que possuem essa precisão terminológica de Morin. E, portanto, é comum encontrarmos opiniões tendentes a achar ou pelo menos insinuar, que a pesquisa, e mesmo o ensino, perderam sua importância, e que a Extensão sozinha deverá no futuro ditar os rumos da universidade. Alguns exemplos:
- A extensão deve deixar de operar como mera difusora do conhecimento produzido, e passar a fazer com que a universidade se insira na realidade social e política da nação.
- O eixo pedagógico clássico, baseado na relação professor/aluno se desloca para um novo eixo, protagonizado pela relação aluno/comunidade.
- Alunos e professores seriam sujeitos do aprendizado, fazendo da extensão uma forma de democratização do saber acadêmico, reelaborando-o com a comunidade, trabalhando o saber reelaborado na Universidade, por meio de novas pesquisas, para que neste ciclo de trocas seja construído um conhecimento capaz de contribuir na transformação social
- a extensão precisa sair da passividade e assumir-se enquanto estratégica para a sociedade e para universidade, levando a uma “Universidade mais comprometida e atuante com seu entorno”
- extensão longe de ser um conceito estático, permanece em constante movimento não só para responder as demandas da sociedade brasileira, como também para provocar essas demandas
O simplismo de algumas afirmações assim contrasta com a visão progressista, mas ao mesmo tempo meticulosamente exata de Morin: a extensão deve trazer a complexidade da sociedade para dentro dos muros da universidade. E a partir do reconhecimento dessa complexidade, Ensino e Pesquisa devem trabalhar unidos para o crescimento social.
Para entender um pouco mais sobre Extensão Universitária, acompanhe o vídeo a seguir: