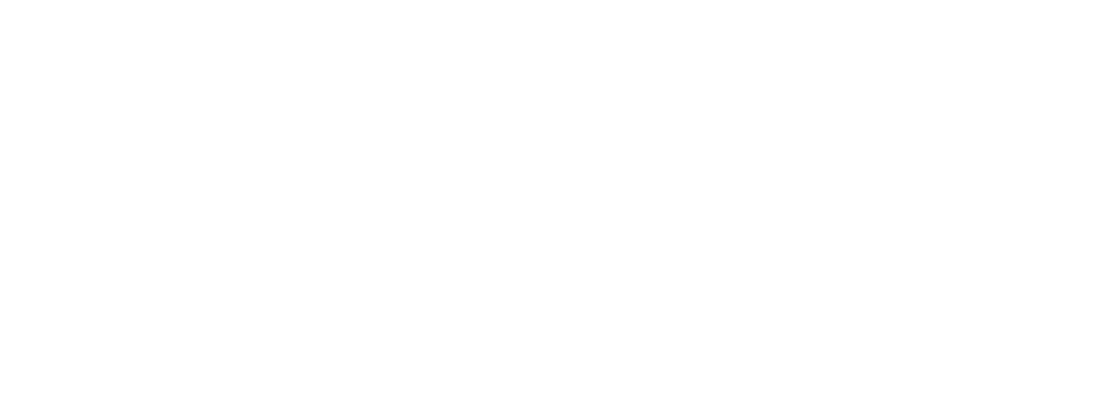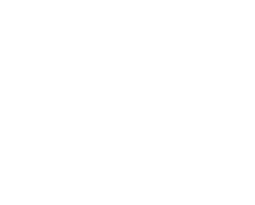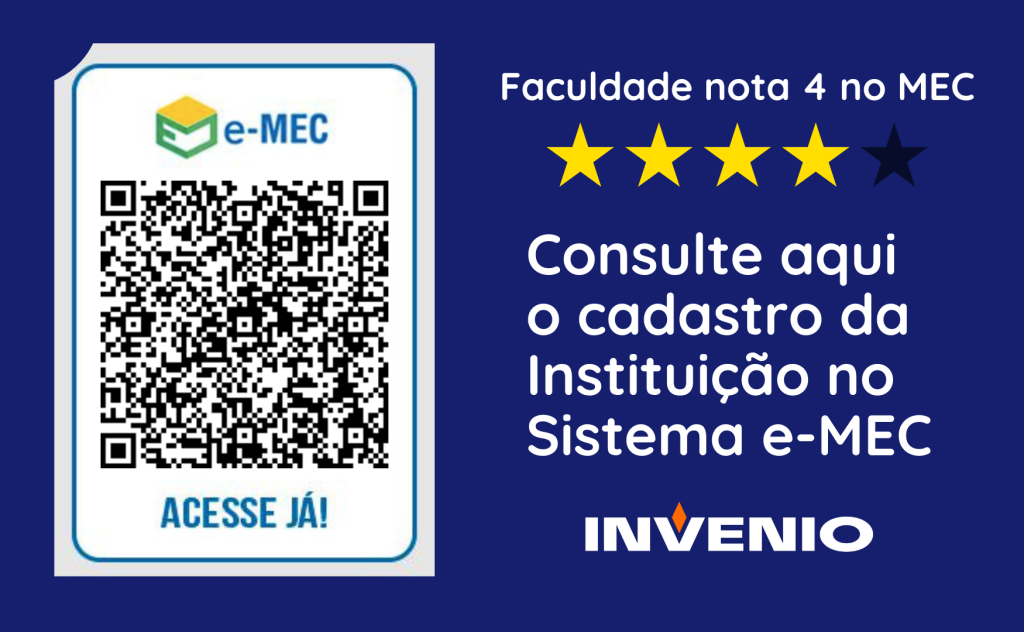O ser humano nasce com uma forma ou modo de ser, como todos os seres vivos, mas não nasce formado. Qualquer animal nasce com algumas tendências definidas e completas – conformadas – que permanecerão ao longo de sua existência: em estado germinal, qualquer animal tem seu modo de ser próprio, que irá atualizando ao longo do tempo. Mas o ser humano não é assim: seu nascimento é a aparição de uma infinidade de possibilidades, que poderão ou não se atualizar ao longo de sua existência. Quando se clona um animal pode-se dizer que sua identidade foi reproduzida. Mas não é assim com o ser humano, pois seu código genético condiciona, mas não determina sua vida: um hipotético clone de alguém nunca seria “um outro ele”, mas somente “semelhante a ele”.
Enquanto que o animal nasce determinado em suas potencialidades, o homem nasce inteiramente aberto diante do mundo que o rodeia. Por isso, é também o ser mais inerme diante de seu meio circundante: essa é a chamada “plasticidade humana”. De uma maneira delicadamente irônica, G. Thibon comenta que “Deus fez o homem, mas fez o menos possível”.
O exemplo concreto mais evidente da plasticidade humana – proposto por Aristóteles – é a mão. Como extremidade corpórea, o casco é próprio para correr, mas não para colher, e a garra é idônea para atacar, mas não para manipular. Já a mão humana parece que não serve para nada em concreto, e é aí precisamente que está sua potencialidade: não servindo especificamente para nada, acaba servindo para tudo. A mão, além de um órgão, é o símbolo da natureza humana.
A existência animal consiste no crescimento espontâneo de suas potências, mediante a nutrição, o exercício, e a imitação da conduta de seus congêneres. Nos primeiros anos da existência o homem aparentemente segue a mesma pauta, mas aos poucos sua existência se revela diferente, precisamente porque surge – com especial força na infância – a tendência à criatividade, ou seja, a ignorar as condutas que poderia imitar, ensaiando outras formas de agir. Aristóteles já percebeu essa diferença, ao ensinar que as potências devem ser divididas entre racionais e irracionais: as irracionais sempre produzem o
mesmo efeito, enquanto que as racionais podem induzir tanto um efeito quanto o efeito contrário. O atuar das potências humanas não é unívoco, mas está aberto a um número indeterminado de possibilidades, e cada uma dessas possibilidades supõe para a potência um modo específico de crescimento.
O animal, deixado em seu ambiente próprio, cresce naturalmente segundo sua espécie. Já no ser humano o natural é precisamente transcender o ambiente em que está, ir mais além das influências recebidas. E isso se deve ao sentido imanente de seu crescimento, fruto de sua natureza racional.
A educação, portanto, é possível, pois a própria indeterminação do ser humano permite que ele se abra a diferentes possibilidades, mas sem as poder seguir ou realizar todas. A natureza humana é a condição de possibilidade básica para uma existência humanizada, e em sua plasticidade constitutiva se incardina a necessidade de receber uma ajuda para seu crescimento – que também está aberto – para que este seja ótimo e formativo. O ser humano se caracteriza por uma indigência radical que, como já se disse, o situa como o mais indefeso dos seres vivos.
A mais antiga expressão dessa realidade radical se encontra em Platão, em um mito narrado no “Banquete” para contar a concepção de Eros, o deus do Amor: Eros é filho de Penia, a deusa da escassez, e do Poros, o deus da abundância. Recebe de sua mãe a indigência congênita que procura remediar-se insistentemente, e como filho de seu pai, a abundância, procura também exceder-se na retribuição da necessidade. Daí o amor não se conformar com nada, e querer sempre mais. A posteridade histórica interpretou Eros nesse mito não apenas como a representação do amor humano, mas também como imagem da própria essência humana, que é originariamente imperfeita, mas ao mesmo tempo tendente a uma perfeição incomensurável.
O ápice dessa dupla raiz da condição humana é a cultura e a educação. A cultura, precisamente por sua variabilidade histórica, pois que é fruto de um contínuo fazer e refazer-se, é possível exatamente pela indigência humana, e pela transcendência que vai além da mera satisfação da necessidade. A educação, enquanto remédio da indigência e ajuda para a transcendência é possível e necessária pela dimensão social da vida humana.
A natureza social do ser humano não é apenas uma mera tendência gregária, mas parte essencial de sua existência, que não pode dar-se como tal – como propriamente humana – sem a concorrência de outras existências. A antropologia estudou casos de chamadas “crianças selvagens”, criaturas abandonadas ou perdidas desde o nascimento e criadas por animais. Pareciam fisicamente seres humanos, mas não o eram por seu modo de ser, porque não havia atualizado suas potencialidades. Nenhum deles pôde se integrar à vida normal, nem na cultura, nem nos costumes, nem nos sentimentos. Foram a triste prova empírica da natureza social do homem. O Mogli pode ser simpático, mas não existe.
Considerações a partir da obra de Francisco Altarejos e Concepción Naval “Filosofia de la Educacion” – Ediciones Universidad de Navarra, Espanha.